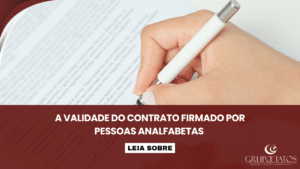Marina Rocha da Silva
Os sindicatos surgiram na Inglaterra em 1824, em razão da organização coletiva dos operários contra as precárias condições de trabalho da época. No Brasil, o início do movimento sindical está intrinsecamente atrelado ao fim da escravidão. Após mais de trezentos anos sendo um país onde a mão de obra era composta quase exclusivamente por escravos, o Brasil, então, passou a conceber o trabalho assalariado e a receber estrangeiros para os novos setores que surgiam no mercado.
Visto que no Brasil ainda subsistia uma certa cultura escravista e por isso, uma grande precarização do trabalho, os imigrantes europeus que detinham ciência dos direitos conquistados em seus países em que o trabalho assalariado já estava instituído, começaram a se organizar em grupos, dando base para o que se tornariam os sindicatos futuramente.
Contudo, o movimento sindical só surgiu em nosso país durante o século XX com a industrialização nacional, iniciando especificamente em São Paulo, o estado em que a industrialização cresceu mais rapidamente. Assim, durante a Era Vargas houve a concretização do sindicalismo nacional. Em 1930 foi criado o Ministério do Trabalho e em 1931 ocorreu a regulamentação da sindicalização operária e patronal.
Desta maneira, o surgimento mundial dos sindicatos representou a organização da classe trabalhadora em busca de uma sociedade justa e democrática, além da ampliação dos limites dos direitos individuais e coletivos. Já no Brasil, os sindicatos, desde sua origem, foram importantes atores sociais que organizaram a classe trabalhadora no contexto de uma democracia representativa e participativa, como previsto na Constituição da República de 1988. Portanto, os sindicatos, em sua essência, ocupam uma importante função social, pois representam a voz da categoria de trabalhadores nas negociações entre empresa e empregado.
Todavia, no decorrer dos anos, os sindicatos brasileiros, fatalmente, deixaram de exercer suas funções de representação da luta dos interesses dos trabalhadores, distanciando-se dos anseios das categorias laborais. Prova disso é que em uma pesquisa do IBGE publicada em 2017, sobre Aspectos das Relações de Trabalho e Sindicalização, restou demonstrado que em 2015 apenas 19,5% dos trabalhadores brasileiros eram afiliados a algum sindicato. Logo, os não sindicalizados somavam 80,9% do total de trabalhadores e, dentre os motivos desta baixa adesão citados pela pesquisa é que os obreiros não acreditavam no sindicato como ente representativo dos seus interesses.
Com a instituição dos sindicatos no Brasil, criou-se a chamada contribuição sindical por meio do Decreto Lei nº 2.377/40 e, posteriormente, incorporada à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) em 1943. O citado imposto sindical foi criado na intenção de solidificar as organizações sindicais no Brasil e, consequentemente, a união dos trabalhadores e, ainda, para resolver o problema histórico de baixa sindicalização. Porém, uma vez que a contribuição sindical se tonou compulsória, esta imposição acabou favorecendo a existência de entidades sindicais que não tinham como verdadeiro objetivo a luta pela conquista de direitos aos trabalhadores.
Por isso, neste contexto, a Lei nº 13.467/2017, conhecida como Reforma Trabalhista, modificou de maneira profunda o mundo do Direito do Trabalho, alterando importantes bases instituídas desde a promulgação da CLT em 1943. Um dos pontos que sofreu considerável ruptura foi a estrutura sindical, pois ao mudar a redação dos artigos 545, 578, 579, 582 da CLT, a Reforma Trabalhista extinguiu a obrigatoriedade da contribuição sindical. Assim, o recolhimento passou a ser condicionado a expressa anuência do empregado.
Ocorre que com o fim do imposto sindical, tal situação provocou abrupta queda na arrecadação das entidades considerando que essa era uma das principais fontes de renda dos sindicatos brasileiros, o que acabou os forçando a se adaptarem a um orçamento menor, resultando em redução de tamanho e de poderio econômico.
Contudo, ao revés do exposto acima, a verdade é que a obrigatoriedade do pagamento do imposto obstava a possibilidade de verificação de um retorno do atendimento às expectativas dos trabalhadores em razão do montante pago, já que todos eram obrigados a pagar. Logo, o fim da compulsoriedade da contribuição sindical, conforme definido pela Reforma Trabalhista, requereu dos sindicatos um maior esforço para convencer os trabalhadores a contribuírem voluntariamente.
Assim, pode-se dizer que a exclusão da obrigatoriedade da contribuição sindical, por si só, não inviabiliza o custeio das funções desempenhadas pelos sindicatos, pois se houvesse um trabalho de reaproximação com a base, haveria manifestação prévia e expressa do trabalhador autorizando o desconto. Por isso, não restaria outo caminho aos entes coletivos, senão tentar encontrar alternativas para a construção de um novo modelo sindical, visando uma maior aproximação com a classe, de modo a demonstrar os benefícios que o trabalhador usufrui ao filiar-se e, ainda, tentar ampliar o leque da atuação sindical para abranger trabalhadores em geral e não apenas os celetistas.
Todavia, na contramão deste espírito inaugurado com a reforma trabalhista, em acórdão publicado em 30/10/2023, o Supremo Tribunal Federal (STF) declarou a constitucionalidade da cobrança de contribuições assistenciais em normas coletivas (acordos ou convenções coletivas de trabalho) a todos os empregados da categoria, ainda que não sindicalizados e desde que assegurado o direito à oposição.
Em seu voto, o Ministro Roberto Barroso arguiu que a solução apresentada – de retirar o caráter facultativo da contribuição, mas garantir o direito de oposição, assegura a um só tempo a existência do Sistema Sindicalista e a liberdade de associação do empregado ao sindicado respectivo da categoria, conforme garantias previstas no caput do art. 8º da Constituição Federal.
Desta maneira, consoante ao entendimento firmado pelo STF, a contribuição assistencial poderá ser cobrada a todos empregados da categoria, inclusive aos não sindicalizados, desde que tenha sido pactuada em acordo ou convenção coletiva; e os referidos empregados não exerçam seu direito à oposição.
Todavia, não se pode olvidar que o exercício do direito à oposição ainda carece de regulamentação, o que gera patente insegurança na forma como os trabalhadores poderão praticá-lo, deixando a classe, mais uma vez, às margens da unilateralidade dos interesses dos sindicatos. Repisa-se que desde esta decisão, variadas práticas abusivas começaram surgir por parte dos sindicatos. São exigências, por exemplo, de percentuais elevados, bem como de entraves ao questionamento da cobrança ou ao direito de oposição, dentre outros.
Portanto, o que resta evidenciado é que perdeu-se, enfim, a oportunidade de se desenvolver no Brasil um sindicalismo sério, compromissado e efetivamente voltado para os interesses coletivos. A Reforma Trabalhista tentou, acertadamente, inaugurar este tempo, porém o STF garantiu aos sindicatos o resgate de suas raízes. Por isso, o que lhes resta é permanecer como um sistema ideológico do Estado e, por consequência, uma representação burocratizada dos trabalhadores: distantes, omissos, mas com sua arrecadação potencialmente reconstituída.
A equipe do Ciatos Jurídico se coloca à disposição para esclarecimentos adicionais sobre o tema.